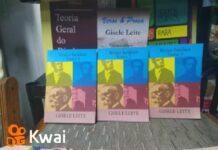Como se sabe, a prova testemunhal é sempre admissível caso não haja disposição em contrário na lei. Há várias regras acerca de sua admissão e valoração tanto no processo civil quanto no processo penal
O artigo 444 da Lei nº 13.105/2015, a propósito, estabelece que, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, será admissível também a prova testemunhal quando houver ao menos início de prova escrita produzida pela parte contra a qual se pretende produzir a prova. O Decreto-Lei nº 3.689/1941 fixa a proibição de o juiz permitir que a testemunha manifeste sentimento pessoal, salvo quando inseparável do fato (art. 213).
Ambas as disposições, embora com previsões em cadernos processuais com sistema próprio (CPC e CPP), são aplicáveis a todo tipo de processo, a final, a regra é a admissão da prova testemunhal para extração de relatos acerca do que o depoente sabe porque viu, ouviu, ou ouviu dizer, sendo irrelevantes, em regra, suas “apreciações pessoais”. É dizer, importa para o processo a busca do conhecimento para se chegar à decisão de mérito, sendo que essa busca pode passar pela colheita do relato de testemunhas.
Não é incomum nos depararmos, no exercício da advocacia, com depoimentos controvertidos e pouco prováveis; com a aplicação frágil do procedimento de colheita da prova; e com resultados ruins em razão dessas debilidades. Recentemente, por exemplo, me deparei com uma testemunha que “sabia tudo” sobre o fato, embora não estivesse presente em todos os momentos de seu acontecimento, além de, em vários pontos, fazer deduções a respeito daquilo que lhe estava sendo perguntado.
A referida testemunha afirmava, com “ar de certeza”, que o veículo do acusado tinha as mesmas características do veículo utilizado no crime que estava sendo investigado; que, quando em diligências na casa do acusado, encontrou o veículo deste lavado, assim como a roupa que usava, dentre outras coisas. Disse, inclusive, que haviam “vários elementos” de formação “de convicção” a respeito da suspeição do acusado naquele momento das diligências. O detalhe é que essa testemunha é policial militar.
Atendo-se apenas à questão técnica quanto a admissão e valoração dessa prova testemunhal, algumas questões são relevantes: (1) o sobredito depoente poderia prestar depoimento na condição de testemunha, ou seja, prestando o compromisso de dizer a verdade, mesmo tendo sido o militar que “fechou a convicção” a respeito da suspeição do acusado?; (2) só pelo fato de ser policial militar (agente público), os seus relatos devem ser considerados verdades absolutas?
Pois bem. No caso considerado, não há dúvidas quanto a admissão do depoente deferindo-lhe o compromisso de dizer a verdade, já que não há causas de sua suspeição, impedimento, ou qualquer outro elemento que o torne indigno de fé. Contudo, não se pode admitir como verdadeiros todos os seus relatos só pelo fato de sua admissão na condição de testemunha. Não basta apenas prestar o compromisso de dizer a verdade.
E isso porque, os seus relatos podem ser incrivelmente sinceros, porém, ainda assim, serem falsos. Ou seja, o depoente pode acreditar piamente que o seu relato é verdadeiro, mas para se chegar a essa conclusão exige-se que tanto o julgador quanto acusação e defesa busquem justificações epistêmicas com a finalidade de falsear ou afirmar o fato relatado.
Não basta que o julgador confie afetivamente que o fato relatado pela testemunha seja verdadeiro, como quem diz: “confio, pois, a testemunha prestou o compromisso de dizer a verdade e o acusado não trouxe elementos para afastar o seu relato”. Essa “confiança afetiva” não se baseia, necessariamente, em evidências. Em processo, não se produz provas com a finalidade de confirmar uma certeza que, inicialmente, já se tinha. Ao revés, qualquer fato é apresentado no início para, no decorrer do processo, as partes se movimentarem para confirmá-lo ou não.
Em sede de valoração, há a necessidade, portanto, que o julgador se afaste do conceito de “confiança afetiva” (confiar subjetivamente), e caminhe para a “confiabilidade” (que seria um estado objetivo da confiança), de modo a dar maior racionalidade à admissão de um fato ou estado de coisas como verdadeiro.
Diferentemente da confiança afetiva, baseada em um “acreditador pessoal” (individual believer), a confiabilidade está baseada em parâmetros objetivos, que justificam epistemicamente a escolha de que determinado fato seja aceito como verdadeiro.
No exemplo que citei, do depoente policial militar, afastando sua crença pessoal e a certeza de fatos só pelo fator de ser este um agente público, tem-se que o seu relato só será considerado verdadeiro se confirmado pelas demais provas, ao final, existentes no processo, sendo a busca epistêmica um dever das partes, inafastável pelo simples compromisso de dizer a verdade, prestado pelo depoente quando de sua admissão.
A confiança que interessa ao Direito deve ser sensível a provas (responsive to evidence), ter fundamentos sólidos e racionais, não podendo, de maneira alguma, ser fundamentado apenas na subjetividade de quem relata. Para que determinado fato relatado seja considerado verdadeiro, devem haver razões positivas e suficientes para que seja possível presumir que o que uma pessoa ou algo informam está correto.
No caso que citei, é relevante, portanto, a busca epistêmica (ou seja, a busca de outros elementos) para saber se o fato de o veículo do acusado ter sido encontrado lavado, em sua casa, horas depois da prática de um crime que lhe é imputado, é o suficiente para afirmar que esse mesmo veículo foi exatamente aquele utilizado no crime sem autoria delimitada; ou ainda, se o fato de suas roupas também terem sido encontradas lavadas, nesse mesmo momento, é o suficiente para confirmar que existem elementos de suspeição (ou mesmo de culpa) de que foi o acusado quem praticou o crime imputado.
Enfim, independentemente do compromisso de dizer a verdade, sempre haverá a necessidade de busca epistêmica para confirmar o relato testemunhal, não bastando a confiança afetiva de que a testemunha está relatando a verdade.